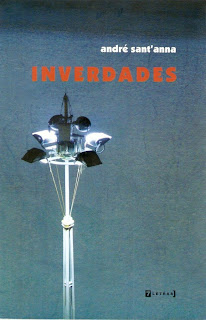Minha querida Nora,
Sabe quem encontrei há pouco tempo? A Diana, você se lembra dela? Diana, a que viveu conosco no colégio das freiras francesas. Diana, a filha única daquele homenzarrão rústico, proprietário de terras em Maremma. Diana que nunca chegou a conhecer a mãe, morta ao dar à luz. Diana de quem dizíamos que, tão fria, branca, educada, saudável, com os cabelos louros e os olhos azuis e o corpo com formas de estátua, que se tornaria uma dessas mulheres insensíveis e frígidas, que talvez ponham no mundo uma ninhada de filhos, mas que não chegam jamais a conhecer o amor.
A recordação de Diana encontra‑se curiosamente ligada ao início da nossa relação; e esta, por sua vez, a uma famosa poesia de Baudelaire que “descobrimos” juntas nos nossos tempos de colégio e acerca da qual, hoje como então, nos encontramos em desacordo quanto ao sentido a atribuir‑lhe. A poesia é “Mulheres Condenadas”. Lembra? Em vez de nos apaixonarmos pelos versos humanitários de Victor Hugo que as irmãzinhas nos aconselhavam, líamos às escondidas Les Fleurs du Mal, com essa curiosidade ardente própria da primeira adolescência (tínhamos ambas treze anos), sempre em busca de alguma coisa que não se sabe ainda o que seja e que, todavia, se pressente como predestinada ao conhecimento.
Éramos amigas, muito amigas, talvez já algo mais do que amigas, embora por certo ainda não amantes, e assim, quase fatalmente (há uma fatalidade também para as leituras), entre tantas poesias de Baudelaire, fomos cair na que tem por título “Mulheres Condenadas”. Lembra? Fui eu, para dizer a verdade, quem descobriu essa poesia fui eu a lê-la em voz alta e explicar a você o seu sentido, apoiando‑me prontamente nos pontos, por assim dizer, essenciais.
Estes eram, sobretudo, dois. O primeiro, na estrofe: “Os meus beijos são leves como as borboletas / que afloram à tarde sobre os grandes lagos transparentes, / os do teu amante cavar‑te‑iam rugas / como trilhos de carro ou cascos de cavalo”; o segundo, na estrofe: “Maldito seja para sempre o sonhador inútil / que primeiro quis, na sua estupidez / vangloriando‑se de uma questão insolúvel e estéril, / misturar as coisas do amor e da moral”. Aqui, como se pode ver na primeira estrofe, surge privilegiado o amor homossexual, tão delicado e afetuoso em contraste com o amor heterossexual brutal e grosseiro; e na segunda, deixa‑se o terreno limpo dos escrúpulos morais, que nada têm a ver com as coisas do amor.
Claro que eu própria, que te explicava o sentido da poesia, captava muito imperfeitamente o alcance das duas estrofes; mas compreendia, apesar de tudo, o bastante para escolhê-las entre todas as outras, como as mais suscetíveis de favorecerem a minha paixão por ti. Para dizer a verdade, esta paixão, hoje tão exclusiva e tão consciente de si própria, teve um começo confuso.
Foi, de fato, para Diana que, num primeiro momento, orientei as minhas atenções.
Como talvez você recorde quando havia exames da parte da manhã, as alunas externas passavam, também elas, a noite anterior no colégio. Diana, que habitualmente passava a noite em casa, ficou, numa dessas ocasiões, dormindo no colégio e o acaso quis que a sua cama ficasse ao lado da minha.
Não hesitei mais, se bem que fosse a primeira vez; exigiam‑no os meus sentidos e obedeci. Assim, depois de uma longa espera ansiosa, levantei‑me da cama e, num pulo, alcancei a cama da Diana, levantei‑lhe os cobertores e insinuei‑me por debaixo dos lençóis, aproximando-me mediatamente dela, num abraço lento e irresistível, tal como uma serpente que, sem pressa, envolve nos seus anéis os ramos de uma bela árvore.
Diana certamente despertou, mas, um pouco pelo seu caráter entorpecido e passivo e um pouco, talvez, por curiosidade, fingiu continuar adormecida e deixou‑me avançar. Digo‑te sinceramente, mal me dei conta de que Diana parecia permitir, experimentei o mesmo impulso voraz de uma faminta frente à presa: tinha vontade de a devorar com beijos e carícias. Mas, logo a seguir, impus‑me uma espécie de ordem e comecei a percorrer arrastadamente o seu corpo, deitado de costas e inerte, de cima a baixo:.
Da boca que toquei com os meus lábios (o meu desejo, para quê negá‑lo?, era pela outra “boca”) ao seio que destapei e beijei compenetrada; dos seios ao ventre, onde a minha língua, lesma apaixonada, deixou um lento traço úmido; do ventre para baixo, até ao sexo, alvo supremo e último daquela minha deambulação, o sexo que pus à minha mercê, agarrando os joelhos de Diana com as duas mãos e abrindo‑lhe as pernas. Ela continuou fingindo que estava dormindo e eu lancei‑me com maior avidez sobre o meu alimento de amor, sem abrandar senão quando as coxas dela se apertaram convulsivamente no meu rosto, como a mordedura de uma ratoeira de fresca e musculosa carne jovem.
O meu ardor, porém, deparou com os limites da minha inexperiência. Hoje, depois de ter suscitado o orgasmo de uma amante, voltaria a fazer o caminho inverso; do sexo ao ventre, do ventre aos seios, dos seios à boca e abandonar‑me‑ia, após tanto furor, à doçura de um abraço meigo.
Mas eu era ainda inexperiente, não sabia ainda amar e, depois temia ser surpreendida por alguma freira que estivesse de vigia ou de alguma aluna insone. Assim, saí de junto de Diana pelos pés da cama e, sempre às escuras, voltei para a minha. Estava arquejante, tinha a boca cheia de suaves humores de sexo, sentia‑me feliz. Mas, no dia seguinte, esperava‑me uma surpresa que, no fundo, teria podido prever.
Após o obstinado sono fingido da primeira amante da minha vida: quando me viu Diana comportou‑se como se nada, entre nós, tivesse acontecido; fria e serena como de costume, manteve durante todo o dia uma atitude não hostil nem perturbada, apenas completa e perfeitamente indiferente.
Chegou a noite e ficamos de novo as duas em camas ao lado uma da outra; a uma hora já tardia, deixo a minha cama para entrar na da Diana. Mas a moça robusta e atlética, está acordada. Quando tento insinuar‑me entre os seus lençóis, um chute violento me repele e me faz cair por terra. Nesse momento, tive como que uma espécie de iluminação. A tua cama ficava também junto da de Diana, mas do outro lado.
Pensei comigo, de repente, que você não poderia ter deixado de ouvir, na noite anterior, o tumulto do meu ruidoso amor e que, assim, estaria agora “à minha espera”. Foi com a segurança de quem se dirige para um encontro prometido que me arrastei até à tua cabeceira. Como previra, você não me repeliu. Foi assim que começou o nosso amor.
Voltemos então a Baudelaire. Nos tornamos amantes, mas com certas precauções, a que chamarei rituais, por tua vontade, porque continuavas um pouco hesitante e amedrontada.
Você pediu e então eu, para te agradar, aceitei que fizéssemos amor somente em duas ocasiões precisamente definidas: no colégio, de noite, todas as raras vezes que lá dormíamos, ou em minha casa, quando a sua mãe, uma viúva bonita e mundana, saía de Roma no fim de semana, na companhia do amante, e te permitia então que você viesse dormir na minha companhia.
Salvo estas duas ocasiões, as nossas relações deveriam ser castas. Assim, embora aceitando‑o, não compreendia tão singular situação; depois, com o passar do tempo, compreendi.
Estavas obcecada por aquela moral de que fala Baudelaire e, para adormecer o seu sentimento de culpa, queria que entre nós duas acontecesse tudo como em um sonho sonhado entre dois sonos, em minha casa ou no colégio. Mas, do mesmo modo, nunca você se habituou completamente à nossa relação, nunca a aceitou no fundo como um modo de vida estável e definitivo.
E aqui quero citar uma vez mais Baudelaire, que, numa outra estrofe, fornece uma perfeita descrição da sua atitude em relação à mim. Eis a estrofe: “As indolentes lágrimas dos olhos fatigados / o ar alquebrado, o transe, a volúpia baça / os braços vencidos abandonados como armas vãs / tudo contribuía para o fascínio da sua beleza frágil. / Estendida a seus pés, calma e cheia de alegria, / Delfina chocava‑a com olhos ardentes, / como um animal forte que vigia a presa / depois de a ter marcado com os seus dentes”.
A teu ver, eu seria Delfina, a tirana, a calma e cheia de alegria”, e tu Hipólita, a pobre criatura devastada pelo meu desejo, a presa “marcada” pelos meus dentes. Esta idéia bizarra inspirava à você um medo invencível que, uma vez mais, Baudelaire descreveu na perfeição: “Sinto abaterem‑se sobre mim pesados terrores / e destacamentos obscuros de fantasmas confusos / querendo arrastar‑me por caminhos de erros / rodeados por toda a parte de horizontes sangrentos”. Tudo isto, realmente, é dito de uma maneira romântica, segundo o gosto da época, mas espelha muito bem a aspiração à chamada “normalidade” que te obcecava, dois anos depois do começo do nosso amor.
Curiosamente, essa aspiração assumiu em você um sentimento violento de insatisfação perante a virgindade. Eu era virgem, como ainda hoje sou, graças a Deus, e não sentia a menor insatisfação por causa dessa condição natural, que não me impedia de modo nenhum de ser uma pessoa e uma mulher completa. Você, pelo contrário, lembras? Parecia a todo momento convencida de que havia qualquer coisa a lhe empedir de viver livre e completamente. E, essa qualquer coisa identificava com a virgindade, da qual dizia que, se a nossa relação continuasse, nunca chegarias a libertar-se. Recordo a este propósito uma frase sua, para mim ofensiva: “Vou envelhecer a teu lado e transformar‑me nessa triste figura que é a solteirona virgem que se arranja com outras mulheres.
Um dia, Diana, de quem continuávamos amigas após o fim dos estudos no colégio, convidou‑nos para passar o fim de semana com ela, na sua casa de Maremma. Fomos de trem até Grossetto. Na estação, estavam à nossa espera, com o automóvel, Diana e o pai.
O pai da Diana, alto, corpulento, barbudo, estava vestido de pastor, com um capote de casentino vermelho, calças de veludo e botas altas de pele crua. Diana, menos rusticamente, envergava uma camisola branca e calças de montar verdes, enfiadas num par de botas altas e negras.
Viajamos cerca de uma hora por uma paisagem de colinas despidas, banhadas por um sol brilhante, mas que não aquecia. Era inverno, um dia de tramontana. Chegamos por uma estrada enlameada ao topo de um pequeno monte, a uma espécie de celeiro ou curral extremamente tosco.
De maneira nenhuma,era a vila senhorial que tínhamos esperado. A volta do edifício, não havia jardim, mas um terreiro cheio de lama e sujo, o chão de um cercado de cavalos. Os cavalos, que, com os cascos, tinham posto o terreno naquele estado, estavam nessa altura a pastar nos prados que ficavam um pouco abaixo da casa. Contei‑os e pareceram‑me seis. Mas assim que Diana e o pai apareceram, começaram a subir ao encontro deles, como se fossem mais cães do que propriamente cavalos. Diana e o pai fizeram algumas festas aos animais, depois convidaram‑nos a entrar e a esperá‑los dentro de casa. Tinham que ir a cavalo encontrar‑se com certos foreiros seus.
Saíram, montaram e afastaram‑se. Nós nos sentamos na sala, diante de um fogo ateado no interior de uma grande lareira. Lembra? Disse-me, após um longo silêncio.
“Viu a Diana? Fresca, branca e rosada, limpa, a imagem viva da saúde física e moral”. Senti‑me imediatamente ofendida pela reprovação implícita nas tuas palavras: “O que é que quer dizer? Que eu te impeço de ser como Diana, física e moralmente sã”. “Não, não é isso. Só estou dizendo que gostaria de ser como ela e que, de certo modo, a invejo.”
Entretanto, Diana e o pai voltaram. Comemos bifes grelhados à florentina, cozinhados diretamente no fogo da lareira. Depois do café, o pai voltou a sair e nós fomos as três descansar no quarto do segundo piso.
Mas não descansamos, começamos a tagarelar as três, deitadas numa imensa cama de casal. Não quero me reter nos temas preliminares. Recordo apenas que, em certo momento, você começou a falar do problema que então te obcecava: o da virgindade.
Depois disso, aconteceu algo extraordinário. Com sua voz límpida e tranqüila, a Diana informou‑nos de que já arranjara maneira de resolver esse problema, pelo que, com efeito, havia já alguns meses que deixara de ser virgem.
Você perguntou a ela com uma inveja mal disfarçada como fizera isso, e quem foi que lhe pretara tal serviço. Ela respondeu, com toda a candura: “Quem? Um cavalo.” Surpres, você exclamou “Mas, desculpa, um cavalo não é grande demais?”
Diana começou a rir, depois explicou que o cavalo era apenas a causa indireta do desvirginamento. Na realidade, acontecera que, com a sua fúria de cavalgadas, num daqueles dias, sentira como um beliscão sutil e doloroso nas virilhas. Em seguida, regressada a casa, descobrira manchas de sangue na calça. Em resumo, o desvirginamento sucedera sem que ela quase se desse conta, por causa de passar tanto tempo montada, com as pernas abertas.
Após esta excursão a Maremma, as coisas entre nós duas mudaram muito rapidamente. Separava‑nos uma espécie de crescente impasse. Você começou a sair com um homem, um advogado, um bonito homem com cerca de quarenta anos; e eu deixei de ver você, a não ser de relance, até porque o colégio acabara e a sua mãe, tendo se separado do amante, passava agora os fins de semana em casa, com você. Decorrido um ano, anunciou-me o seu casamento com o advogado. Três anos mais tarde, apenas com vinte anos, separou-se do seu marido por “incompatibilidade de gênios”.
Pelo menos, foi assim que a sua mãe me pôs a questão por telefone. Você voltou para perto dela. Eu por minha vez, voltei à sua vida e recomeçamos a fazer amor, embora sempre às escondidas e com imensas precauções. Finalmente, ao fim de dois anos de amor clandestino, arrancamos, como é costume dizer‑se, a máscara e começamos a viver juntas, felizes e livremente, na casa que ainda hoje habitamos.
Agora, você deve estar interessada em saber por que misturei à nossa história Baudelaire e Diana.
Digo já, porque, no fundo, você continua a identificar-se com Hipólita e persiste em me ver como Delfina ‑ a primeira, vítima e a segunda, tirana implacável. Ou seja, continua a nos ver não sem certa complacência masoquista da sua parte, como duas “mulheres condenadas”.
Mas a realidade não é essa. Não somos, nem de longe, duas mulheres condenadas, somos duas mulheres corajosas que se salvaram da condenação. Perguntará, que condenação? E eu te respondo, a da escravidão perante o membro viril. Isto é, nos salvamos de uma ilusão de normalidade que, após a sua desgraçada experiência matrimonial, sabe agora muito bem não passar de um fruto da sua imaginação.
Voltemos, porém, à Diana. O meu encontro com ela, depois de dois anos sem a ver, forneceu‑me ocasião de deparar exatamente com esse gênero de mulheres a que se aplica o epípeto baudelairiano de “condenadas”. Com efeito, deve saber que Diana já não está sozinha há muito tempo. Uniu‑se, numa ligação aparentemente semelhante à nossa, a uma tal Margherita, que eu nunca vira, mas que você, ao que parece, conhece, porque uma vez, já não sei quando, me falou dela e a definiu como “horrenda”.
Dirá, pois sim, é uma mulher horrenda, mas você mesma disse que se encontra unida à Diana por uma ligação semelhante à nossa. Onde está, nesse caso, a condenação?
Eu vou responder mas devagar, o que eu disse foi “aparentemente” semelhante à nossa. Na realidade, descobri que Diana e a amiga continuam mais do que adoradoras do membro viril, além disso, de uma maneira, por assim dizer, potenciada. Mas não quero antecipar a minha história. Basta que saiba que a sua servidão se alargou muito para lá do humano, até uma zona obscura que nada tem a ver com a humanidade, mas se caracteriza apenas pela cegueira e brutalidade próprias da agressão masculina.
As coisas são como vou contar. Depois da sua partida para os Estados Unidos, chegou‑me um dia uma carta com o carimbo de uma terra próxima de Roma. Olhei para a carta e reconheci, no final, a assinatura de Diana. Li depois o seu conteúdo. Era breve, nos seguintes termos.
“Querida, muito querida Ludovica, você sempre foi boa para mim e é tão séria e inteligente que, encontrando‑me agora numa situação difícil, pensei logo em ti. Sim, és a única que poderá me compreender. A única que poderá me salvar. Peço, suplico, ajuda‑me, sem você, sinto que não conseguirei, que ficarei condenada para sempre. Vivo no campo, a pouca distância de Roma. Arranja um pretexto qualquer, por exemplo, o fato de termos sido colegas no colégio, e vem fazer‑me uma visita. Mas vem . Até já, portanto, como espero. A que não te esqueceu nunca ao longo destes anos, sua, Diana.”
Devo dizer que a carta me produziu uma estranha impressão. Continuava a ter presente na memória a poesia de Baudelaire que tanto nos fizera discutir acerca da condenação; e eis que também Diana, na sua carta, usava, por sua vez, a palavra “condenada”, reforçando‑a ainda por cima com um “para sempre” de desespero. A palavra era forte, muito mais forte do que na poesia de Baudelaire, afinal de contas escrita noutra época. E, era não só forte, mas até desproporcionada tratando‑se de uma relação de amor, ainda que infeliz. Sem dúvida, podia ser também que Diana escrevesse condenada” por não conseguir desfazer a sua ligação com a “horrenda” Margherita. Mas naquela palavra havia algo mais do que a impaciência pela libertação de uma submissão sentimental insuportável, qualquer coisa de obscuro e de indecifrável.
Por isso, telefonei imediatamente à Diana, para o campo, para o número que ela me indicara na carta. Fingi, como me fora aconselhado que fizesse, que pretendia “matar saudades” de antigos tempos de colégio. Desse modo, consegui ser prontamente convidada para almoçar no dia seguinte.
De manhã, saí de automóvel e dirigi‑me para a vila de Diana. Cheguei pouco antes da hora de almoço. O meu automóvel entrou por um portão escancarado, percorreu uma aléia de loureiros, desembocando em um largo jardim à italiana, bem tratado, com canteiros verdes e passagens ensaibradas entre eles, onde se erguia uma casa de bela aparência, com dois pisos.
Dirigi‑me à porta. Não tive tempo de tocar, porque Diana abriu e apareceu no mesmo instante, como se estivesse à espera da minha chegada no átrio da entrada. Usava apenas a parte de baixo de um biquini, com os seis nus, por causa do calor do verão, mas com a seguinte particularidade, em vez de sandálias, calçava botas altas, vermelhas, da mesma cor do biquini. Quando lhe dirigi um segundo olhar, digo sinceramente, tive como que um sobressalto de pasmo ao ver como a Diana mudara e de que maneira.
No instante em que a olhei, procedi a uma espécie de inventário instantâneo de tudo o que houvera outrora na sua pessoa e agora lhe faltava. Desaparecera a sua formosura rija e vivaz.
Em lugar dos seios altivos, duas maminhas que mal se destacavam do corpo; em lugar do ventre redondo e cheio, uma depressão achatada e esticada entre os dois ossos salientes da bacia; em vez das belas pernas bem torneadas, dois paus esgalgados. Mas a transformação maior era a do rosto; branco e macilento, encovavam‑se nele os olhos azuis que a magreza tornara enormes e que dois vincos de fadiga sexual faziam ainda mais carregados. E a boca, outrora de um rosa natural e nunca retocado, surgia agora desgraçadamente aumentada por um borrão de batom vermelho‑gerânio.
De toda a sua pessoa emanava, assim, um estranho ar de liquefação, como de uma vela consumida pela chama. Dir‑se‑ia que emagrecera menos do que se dissolvera. Ouvi‑a exclamar em tom alegre: “Até que enfim, Ludovica! Espero você desde o nascer do sol!”. E então, nem a sua voz reconheci. Lembrava‑me dela clara e argêntea, agora soava baixa e rouca. Tossiu e reparei que, entre dois longos dedos esqueléticos, segurava um cigarro aceso.
Nos abraçamos, e depois, ela me disse com um ar casual que me pareceu contrastar com o tom desesperado e urgente da sua carta.
“Margherita foi dar uma volta pelo campo, volta daqui a pouco. Entretanto, vem cá, vou mostrar a casa a você. Vamos começar pelas cavalariças. Os cavalos são realmente estupendos. Você gosta de cavalos, não gosta?”
E dizendo isto, sem esperar resposta, precedeu‑me, atravessando o jardim, de uma aléia para a outra, na direção de um edifício baixo e comprido que eu, de início, não notara.
A fieira de janelas em boca de lobo fez‑me adivinhar que era ali a cavalariça. Diana caminhava lentamente, de cabeça baixa, levando de vez em quando à boca o cigarro aceso, como se estivesse a refletir sobre algum problema particular. Por fim, todavia, o resultado da meditação foi escasso. Ela anunciou: “Há aqui seis cavalos e um pônei. Os cavalos são puros‑sangues, não têm nada a ver com os do meu pai. O pônei, esse, é simplesmente uma maravilha”.
Chegamos à porta da cocheira e entramos. Vi um comprido e estreito recinto rectangular com cinco baias de um lado e cinco do outro. Os cavalos gabados por Diana ocupavam seis dos compartimentos e, embora tais animais não sejam a minha especialidade, reparei imediatamente que eram exemplares magníficos, dois brancos, um malhado e três castanhos.
Lustrosos e esbeltos, nas suas baias enceradas e revestidas de um vidrado claro no chão, sugeriam uma impressão de luxo. Diana deteve‑se diante de cada um dos cavalos, chamando‑os pelo nome um a um, fazendo‑me observar os seus dotes e acariciando‑os; mas tudo isso, de uma maneira algo abstrata.
Depois, aproximou‑se do pônei, que, pela sua pequena envergadura, eu não notara ainda, e disse, num tom desprendido e ligeiro: “Mas este é o meu preferido. Venha vê‑lo.”
E com estas palavras, entrou na baia. Segui‑a com curiosidade. O pônei, castanho claro como um veado, com a cauda e a crina louras, estava imóvel, como se meditasse, sob o dilúvio dos pelos longos e claros do pescoço.
Diana começou a gabar‑me a sua beleza e, enquanto falava, acariciava o animal no flanco. Tive a estranha sensação de que a Diana falava no vazio, apenas por falar, e que eu, em vez de a ouvir, devia antes olhá‑la, uma vez que aquilo que ela estava fazendo era mais importante do que aquilo que me dizia.
Muito naturalmente, os meus olhos fixaram‑se na sua longa mão, magra e branca, com dedos hábeis e unhas escarlates afiadas, que passava e voltava a passar pelo flanco fremente do animal. E assim, não me escapou que, a cada festa, a mão descia um pouco mais, em direção ao ventre do pônei.
Entretanto, com uma estranha pressa quase histérica, ela continuava a falar, mas longe de ouvi-la eu já nem dava pela sua voz. Em vez disso, isolada como que por uma estranha surdez, olhava a mão, lenta e incerta e todavia animada de não se sabia que intenção, mas que se aproximava agora de muito perto do sexo do pônei, fechado na sua bolsa de pêlo castanho.
Houve mais duas ou três festas da Diana, depois a mão teve um impulso quase mecânico e sobrepôs‑se declaradamente no membro do animal, fechando‑o, após um momento de hesitação, entre os seus dedos.
Então, como se me tivesse libertado de uma só vez daquela espécie de surdez passageira, ouvi bruscamente Diana dizer‑me: “É o meu preferido, não te escondo, mas tenho que acrescentar mais alguma coisa que não sei como dizer. Digamos que é o meu preferido porque, com ele, acontece a “coisa”. Por causa dessa “coisa”, estou eu aqui, por causa dessa “coisa” te escrevi a carta.
Diana estava agora completamente apertada contra o pônei e não se conseguia ver o que fazia; depois, vi claramente que o braço dela, estendido por baixo da barriga do animal, ia e vinha, para a frente e para trás, e compreendi, logicamente, embora não sem incredulidade, que Diana estava masturbando o animal.
Entretanto, falava, falava, como se acompanhasse com a voz o ritmo das carícias. Aquilo a que eu chamo a “coisa”, não é tanto ele, mas o que Margherita e eu com ele fazemos. Por isso, dele posso dizer como certas mulheres: o meu rapaz, o meu homem. Até porque, a Margherita não pára de me repetir, entre ele e um homem não há a mínima diferença, a mínima… Sim, tem a cabeça, o corpo e as pernas diferentes das de um homem; mas ali é exatamente igual a um homem, exceto talvez no tamanho, o que, segundo a Margherita, não é um defeito, mas, pelo contrário, em certas ocasiões, uma vantagem.
Não tenha vergonha, olha e me diz se não é uma autêntica beleza, diz se não é verdade que é lindo?”
De repente, o pônei empinou‑se, agitou as patas dianteiras no ar e imobilizou‑se soltando um longo relincho sonoro. Diana apressou‑se em amansá‑lo, acalmando‑o com a voz e novas carícias. Por mim, saí de dentro da baia. Devia ter no rosto uma expressão eloqüente porque a Diana interrompeu o fluxo do seu discurso contínuo e murmurou em voz baixa, como se falasse com o pônei: “Vamos lá, não te excites, não sejas porco”.
Depois, num tom diferente, inesperadamente suplicante, chamou por mim: “Ludovica!”. Eu ia me afastando, mas, colhida pela entoação da sua voz, me detive.
“Ludovica, escrevi porque caí numa ratoeira, numa autêntica ratoeira, numa ratoeira infame, e só você pode me salvar”.
Comovida, balbuciei: “Farei o que puder”. “Não, Ludovica, não é o que pudere, mas uma só coisa precisa: me levar daqui embora, depressa e hoje mesmo”. “Se você quiser, pode vir comigo”.
Mas você vai ter que insistir, Ludovica, porque eu sou vil, muito covarde e, no último momento, sou capaz de querer recuar.”
Um pouco aborrecida, respondi então: “Pois bem, eu insisto”. Ela continuou, como se falasse consigo mesma: “Vamos almoçar, depois despeço‑me da Margherita e você me levas embora”. Eu não disse mais nada e precedi‑a com alguma pressa, na saída da cocheira.
No jardim, Diana alcançou‑me, agarrou‑me com força o braço, e recomeçou a falar. Mas eu não a ouvia. Lembrava‑me daquela sua incrível e, no entanto, lógica afirmação de que “o pônei era o homem dela”, e não podia impedir‑me de pensar para comigo que a submissão de tantas mulheres ao membro viril encontrava em Diana uma confirmação caricatural, transformando a chamada “normalidade”, a que em certa altura também você aspirava, em algo de ridículo e monstruoso.
Sim, Diana e a amiga tinham‑se juntado já não para se amarem, como nós, mas para adorarem no pônei o eterno falo, símbolo de degradação e de escravidão. Depois, recordei as nossas polémicas sobre a poesia de Baudelaire e disse para comigo que Diana e Margherita, elas sim, eram as “mulheres condenadas” de que falava o poeta, e não nós, como você, em momentos de mau humor e dúvida, se obstina, às vezes, em pensar.
Voltou‑me à mente o final da poesia: “descei, descei, lamentáveis vítimas, e tive a certeza de que dizia respeito, não a nós duas, em nada vítimas, mas à miserável Diana e à sua “horrenda” Margherita. Na realidade, eram vítimas de si próprias, porque não podiam deixar de prosternar‑se perante o macho e porque, sobretudo, fingiam amar‑se para melhor esconderem a sua perversão, profanando com essa indigna comédia o amor afetuoso e puro que as poderia ter feito felizes.
Entretanto, Diana dizia: “Irei ficar provisoriamente com você. Assim, Margherita pensará que nos amamos e me deixará em paz.” Eu respondi quase com furor: “Ficar comigo, não; nem pensar nisso. E, por favor, tira essa mão do meu braço”.
Ela queixou‑se: “Porque é que são todos tão cruéis comigo? Até você, agora…”
“Não consigo esquecer que ainda há pouco, com essa mão, estava mexendo naquela “coisa”. Mas, como é capaz de fazer aquilo?”
“Foi Margherita. Foi‑me persuadindo gradualmente. Depois, um dia, pôs‑me um ultimato”.
“Que ultimato?”
“Ou você faz “a coisa” ou nos separamos”.
“E então? Tinha sido uma bela ocasião para você ir embora.”
“Parecia impossível deixá‑la. Queria bem à ela; pensei que seria só uma vez, uma coisa assim: um capricho.”
“Mas onde está ela, a Margherita?”
“Olha ela, ali.”
Levantei os olhos e vi então a Margherita. Pensei logo no seu adjetivo tão decidido: “horrenda”. Depois, fitei‑a demoradamente, como que para descobrir nela a confirmação do teu juízo. Sim, a Margherita era realmente “horrenda”. Estava por baixo do pórtico da vila; de pé, com as pernas afastadas e as mãos nas ancas. Alta, corpulenta, com uma camisa quadriculada, um cinto com uma fivela enorme, calças de pólo brancas, botas altas negras.
E, não sei porquê, talvez por causa da sua atitude arrogante, lembrava‑me o pai da Diana, tal como o víramos daquela vez no campo, no seu velho casarão. Olhei‑a no rosto. Por baixo da massa redonda dos cabelos escuros e crespos, a testa, insolitamente baixa, traçava como que um elmo por cima dos olhos, encovados e penetrantes. O minúsculo nariz adunco, a boca proeminente, mas de lábios delgados, faziam pensar no focinho de alguns grandes símios. Em suma, era uma giganta, uma atleta de luta livre feminina, como essas que vemos, na televisão, puxarem‑se os cabelos, pontapearem‑se na boca, saltarem sobre o estômago da adversária.
Ela deixou‑nos avançar e depois exclamou, com uma cordialidade que me pareceu fingida e premeditada: “Tu és a Ludovica, não és? Bem-vinda a nossa casa, acho que vamos ser amigas. Pensei mal te você, bem-vinda, bem-vinda”. A voz era semelhante à pessoa, aparentemente jovial, mas, por baixo, fria e imperiosa. A voz de uma diretora de colégio, de uma madre abadessa ou de uma enfermeira‑chefe.
Naturalmente, nos cumprimentamos com um beijo; e então, para minha surpresa, dei‑me conta de que a Margherita procurava transformar o beijo de hospitalidade num beijo de amor. Os seus lábios salientes deslizaram, úmidos e tenazes, das minhas faces na direção da minha boca. Desviei‑me o melhor que pude, mas ela apertava‑me com força entre os braços poderosos e não consegui evitar que a ponta da sua língua penetrasse por um segundo no canto da minha boca. Descarada, satisfeita, recuou então e perguntou: “Pode se saber onde estiveram? Na cavalariça, é claro! Diana mostrou‑lhe a paixão dela, aquele pônei louro? Lindo, não é? Mas entrem, está tudo pronto, tudo pronto”.
Entramos na casa. Era uma sala de estar convencionalmente rústica, com barrotes negros à vista no teto, paredes caiadas, chaminé de pedra em lage, móveis maciços e escuros, mas não antigos. Uma dessas mesas compridas e estreitas ditas de “refeitório, mostrava‑se de um dos lados, com os talheres postos para três pessoas. Em resumo, você pode imaginar bem o quadro.
Não vou alargar‑me com as nossas conversas durante o almoço; na realidade, foi só a Margherita quem falou, dirigindo‑se especialmente a mim, excluindo Diana da conversa. De que falava ela? Como costuma dizer‑se, de tudo e de nada ou seja, de coisas insignificantes; mas não deixava por um momento de fazer‑me compreender os sentimentos, verdadeiramente espantosos pela sua imprevisibilidade e natureza súbita, que havia alguns minutos parecia alimentar por mim.
Fixava‑me com aqueles seus olhos encovados, brilhantes e inflamados por não sei que bestial concupiscência; por baixo da mesa, as barrigas das suas pernas, enormes, apertavam as minhas como se mordessem; chegou ao ponto de estender a mão engordurada e, com a desculpa de ver o amuleto que trago ao pescoço, me acariciar os seios, exclamando: “Como é bonita a nossa Ludovica, não é, Diana?” Esta última não respondeu; torceu os lábios grandes como num esgar de dolorosa perplexidade; tirou os olhos de mim e voltou‑os para a lareira. ” Margherita, então, disse‑Lhe brutalmente: “Diz qualquer coisa; falei com você, porque não responde?” “Não tenho nada a dizer”. “Puta, você tem que dizer que é linda”.
Diana olhou‑me e repetiu mecanicamente: “Sim, é linda”. Entretanto, durante esta cena embaraçosa, eu procurava libertar a minha perna das de Margherita, mas inutilmente. Era como ter o pé preso numa ratoeira; essa mesma ratoeira “infame” de que a Diana me falara na cocheira.
Tínhamos almoçado um excelente melão com presunto, bifes na grelha, sobremesa. Depois deste último, a Margherita fez o que costumam fazer os oradores no fim dos banquetes: bateu três vezes com o garfo na mesa. Olhavamos para ela, surpreendidas. Ela então disse: “Tenho que te anunciar uma coisa importante. Digo isso agora porque está aqui a Ludovica e ela poderá testemunhar que falei a sério. Portanto, a partir de hoje, esta casa está à venda”.
Em vez de olhar para a Margherita, virei os olhos para Diana, à qual se dirigia claramente esta comunicação. Tinha a boca mais franzida do que nunca; depois perguntou: “O que é que disse ‑ vai vender a casa?”
“Encarreguei disso uma agência. Amanhã aparece um grande anúncio num dos jornais de Roma. Vou vender toda a propriedade, incluindo os terrenos que rodeiam a casa. Mas não vendo os cavalos, esses não.”
A Diana perguntou então, um tanto mecanicamente: “Vai levá‑los para outra casa?”
Magherita calou‑se por um instante, para sublinhar a importância do que iria responder a seguir; depois, explicou: A minha próxima casa vai ser um andar em Milão: por muito grande que seja, não vejo como poderei lá meter sete cavalos. Por outro lado, gosto demasiado deles e não consigo imaginá‑los nas mãos de outros. A alternativa seria pô‑los em liberdade, devolvê‑los ao estado selvagem, mas não me parece possível. Por isso, vou matá‑los. Afinal de contas, são propriedade minha; posso fazer deles o que quiser”.
“Como é que vai matar os cavalos?”
“O mais humanamente possível: a tiro de pistola.”
Houve um silêncio prolongadíssimo. Aproveito esse silêncio, minha muito querida, para te dizer o que pensei, no mesmo instante, daquelas declarações da Margherita. Pensei que eram falsas e sem fundamento, no sentido de constituírem uma espécie de jogo entre ela e Diana. Margherita não tinha a mínima intenção de vender a casa e ainda menos de matar os cavalos; do seu canto, Diana também não acreditava que a amiga estivesse falando sério. Mas Margherita, por qualquer motivo, sentia necessidade de ameaçar Diana; e Diana, pelo mesmo motivo, tinha necessidade de mostrar que acreditava nas ameaças.
Assim, não fiquei excessivamente espantada quando Margherita prosseguiu: “Ontem de manhã, Diana me fez saber que tencionava voltar para junto do pai. Foi por isso que decidi vender a casa e matar os cavalos. Mas se Diana mudar de idéia, é muito provável que nada disso aconteça.”
Era um convite explícito a que a Diana se decidisse. Olhei para ela, devo confessar, com alguma ansiedade: embora fosse claro para mim, como já disse, que tudo aquilo era um jogo, não podia deixar de esperar que Diana conseguisse força suficiente para se libertar de Margherita.
Infelizmente, tal esperança em breve se dissipou. Vi Diana baixar os olhos; depois articulou: “Mas eu não quero que os cavalos morram.”
“Não quer, hein?” ‑ Margherita parecia estar agora a divertir‑se: “não quer, mas, na realidade, se decidir ir embora, é o que quer mesmo.”
Não sei porquê, talvez por estupidez, quis intervir neste jogo entre elas: “Desculpa Margherita, mas não é certo: tudo depende não de Diana, mas de você. Pelo menos no que diz respeito aos cavalos.”
Curiosamente, Margherita não pareceu ofender‑se. Tomou as minhas palavras como a aceitação pelo meu lado de um outro jogo, o jogo que ela tentava travar comigo. Por isso, disse ambigüamente: “Digamos, nesse caso, querida Ludovica, que tudo depende de você.”
“De mim?”
“Se estiver disposta, mesmo que provisoriamente, a tomar o lugar de Diana, não vendo a casa e não mato os cavalos. Mas ter que me dizer já. Se aceitar, poderá ir hoje mesmo à Roma buscar as suas roupas, e Diana aproveita para se ir embora daqui.”
Devo ter feito uma cara de espanto, porque Margherita se corrigiu quase no mesmo instante: “Me entendam: estou brincando. Mas o meu convite continua valendo. Acho você simpática e gostaria que ficasse aqui com Diana ou sem Diana. Portanto, Diana, você ainda não me respondeu e…
"Neste ponto, devo dizer que, enquanto Diana não parecia ter dado crédito à ameaça de matar os cavalos, a ameaça de ser substituída por mim parecia exercer sobre ela um efeito indubitável. Olhava‑me com os seus grandes olhos azuis, dilatados não se sabia por que brusca suspeita. Depois, disse com decisão: “Para os cavalos não morrerem, estou disposta a fazer todas as coisas”.
“Não são todas as coisas. É a “coisa”!
Pois bem, minha querida, nesta altura, eu deveria intervir com energia para arrancar Diana das garras da “horrenda” Margherita. Mas, apesar de minha promessa, não o fiz. E isto por dois motivos: antes de tudo, porque, após o convite, em nada jocoso, de Margherita, temia, intervindo, não poder salvar Diana senão ao preço excessivo de aceitar substituí‑la; em segundo lugar, porque, naquele momento, odiava mais a Diana do que a própria Margherita. Sim, a Margherita era um monstro irremediável e definitivo; mas Diana era pior precisamente por ser melhor: uma pessoa incerta, fresca, fechada, covarde.
Você dirá que neste meu juízo talvez influa a minha infeliz experiência de colegial. Talvez. Mas o ódio é um sentimento complicado, tecido de elementos heterogêneos; nunca odiamos por um motivo só.
Assim, não me intrometi. Vi Diana fitar Margherita com uma expressão tímida e subjugada; depois, respondeu num sopro: “Está bem.”
“O que é que está bem?
Farei o que você quiser”
“Hoje mesmo?”
“Sim.”
” Já?”
Diana protestou com uma má vontade cúmplice: “Você deixa pelo menos eu digerir o almoço.”
“De acordo, vamos as três descansar um pouco.
Você, Diana, vai para o quarto; já lá falar com você. Entretanto, primeiro tenho que levar Ludovica ao quarto dela.”
“Eu posso levá-la. Afinal de contas, fui eu quem a convidou.”
“A dona da casa sou eu, sou eu que vou com ela.”
“Mas eu queria falar com Ludovica.”
“Falem mais tarde.”
Esta discussão acabou da maneira previsível: Diana, abatida e perplexa, saíu da sala por uma porta que daria provavelmente para a parte inferior da casa;
Margherita e eu saímos, pelo contrárío, em direção ao piso superior. Ela precedeu‑me ao longo de um corredor, abriu uma porta, entrámos as duas em um quarto de mansarda, com teto inclinado e uma única janela. Sentia‑me já pouco à vontade por causa da insistência de Margherita em querer me mostrar o quarto. O constrangimento aumentou quando a vi dar uma volta à chave na porta. Objetei no mesmo instante: “O que é isso? Que é que está fazendo?”
Margherita não se embaraçou: “É porque aquela puta é bem capaz de aparecer aqui de repente e sem bater.”
Eu não disse nada. Margherita aproximou‑se, e com um gesto ligeiro e desenvolto, passou‑me um braço à volta da cintura. Ali estávamos as duas, quase embaraçadas, de pé, por baixo do teco inclinado do sótão. Margherita continuou: “Ela é ciumenta, mas, “desta vez, tem motivo para isso. Falou‑me tanto de você. Contou‑me tudo: o colégio e que você ia até a cama dela à noite, enquanto ela fingia dormir… Fiz uma certa idéia de você, naturalmente favorável. Mas você é cem vezes melhor do que eu supunha. E, sobretudo, cem vezes melhor do que aquela puta da Diana.”
Tentando interromper aquela pesada declaração de amor, objetei: Mas porque lhe chama de puta? Há um tempo atrás lá na mesa chamou-a assim.”
Porque é o que ela é. Faz birras, mostra‑se desdenhosa e depois acaba sempre por dizer que sim. E não se deixe enganar por aqueles sentimentalismos: não pensa senão numa coisa, sabel qual, e tudo o mais, nada conta para ela. Por exemplo, os cavalos. Julga que realmente, se eu amanhã os matasse, ela experimentaria o grande desgosto que diz? Nada disso. Mas como você estava presente, quis mostrar que tem uma alma sensível. Puta, é o que ela é. Mas estou farta dela! Então, que decide?
Senti‑me sinceramente surpreendida: “Mas o que você quer dizer?” “Aceita vir morar comigo, digamos por uns dois meses, isto para começar?”
Objetei, tentando ganhar tempo: “Mas há Diana”. ” Quanto a Diana, faremos as coisas de maneira a nos livrarmos dela. Você toma o lugar dela”.
Ficou calada um instante, depois acrescentou: “Há um bocado falei em matar os cavalos. Para fazê-la ir embora, basta matar o pônei.”
Eu exclamei: “Agora há pouco, você ameaçou matar o pônei para impedir Diana de ir embora. Agora ameaça matar o pônei para fazê-la ir embora.”
“É que agora há pouco eu não queria que Diana partisse e sabia que a ameaça bastava para fazê-la ficar. Mas para fazê-la ir embora, é necessária não a ameaça, mas a sua execução. Se eu matar o pônei, ela vai embora.”
Estava encostada em mim, inclinou‑se, beijou‑me o pescoço e depois os ombros. Tentei libertar‑me do abraço dela, mas sem êxito; por fim, disse contra a minha própria vontade: “o que você quer de mim afinal?”
“Aquilo que Diana não pode me dar, nem nunca me dará: um verdadeiro amor.”
Garanto que, naquele momento, Margherita quase me fez medo. Uma coisa é ouvir certas coisas ditas por você, e outra são as mesmas coisas ditas por uma giganta com olhos de porco e focinho de macaco. Objetei debilmente: “eu já gosto de outra pessoa.”
“O que é tem? Sei tudo a seu respeito. Ela se chama Nora, não é? Traga-a para cá também; venham as duas viver comigo.”
Entretanto, empurrava‑me para a cama e, com uma das mãos, levantava‑me desajeitadamente a saia.
Ora, você sabes que muitas vezes, e especialmente no verão, não visto nada por baixo da saia. E então que ela sobe a mão entre as minhas pernas, me agarra os pelos do púbis com os dedos e puxa com força, exatamente como faria um homem libidinoso e brutal. Soltei um grito de dor e libertei‑me com um empurrão.
No mesmo instante, bateram à porta. Com os olhos cintilantes de excitação, Margherita me fez violentamente sinal com a mão, ordenando‑me que não a abrisse. Como resposta, chegueaté a porta e abri.
Diana estava na entrada e olhou‑nos em silêncio a ambas, antes de dizer fosse o que fosse. Depois falou: “Marguerita, estou pronta.”
Margherita por um momento, não achou o que responder; ofegava, ainda mostrava‑se alterada. Finalmente, articulou com esforço: “então você não foi dormir?”
Diana sacudiu a cabeça: “estive aqui o tempo todo.”
Eu perguntei com surpresa: “aqui, onde?”
Ela respondeu em voz baixa, sem olhar para mim: “Aqui no corredor, sentada no chão, à espera que vocês acabassem.”
Senti, confesso, quase ódio por ela, tão vil e tão volúvel: à minha chegada, suplicara‑me que a levasse dali; agora acocorava‑se atrás da porta, como um cão, à espera que “acabássemos”. Margherita disse impulsivamente: “Está bem, vamos” E depois, virando‑se para mim: “Então estamos combinadas! Até já.”
Saíram e eu atirei‑me para cima da cama, para repousar por fim um pouco, após tantas emoções. Mas ao cabo de alguns minutos, levantei‑me de um salto e fui à janela: tinha a certeza de que havia qualquer coisa ali destinada a ser vista por mim, mas não sabia exactamente o quê.
Esperei um bocado. Da janela, via‑se o prado que se estendia atrás da vila. Ao fundo do prado, destacava‑se uma grande piscina de água azul, circundada por uma alta sebe de buxo aparado. O recinto traçado pela sebe de buxo abria‑se a meio e revelava, em perspectiva, para lá da piscina, uma construção alongada e baixa, sem dúvida as cabines dos vestiários e o bar para os aperitivos .
Olhava a piscina e dizia comigo mesma que não passava duma espécie de cenário de teatro: em breve, aconteceria alguma coisa mais. E, com efeito, pouco tempo depois, desembocava ali uma pequena procissão, vinda do lado da cocheira e atravessando o prado.
A frente, vinha Diana, com a sela e as botas de cano alto vermelhas; trazia o pônei pelo cabresto. Este seguia docilmente, devagar, com o focinho tapado pela pelagem comprida das crinas caídas para diante e com a aparência de quem está em meditação. Trazia uma coroa de flores vermelhas à volta do pescoço; as flores pareceram‑me ser rosas, da variedade mais simples, com uma única fieira de pétalas na corola. Atrás do ponei, segurando‑lhe a longa cauda loura com ambas as mãos, com a solenidade de quem segura o manto de um soberano, vinha Margherita.
Vi as três figuras seguirem até à pastagem aberta entre as duas sebes altas de buxo. Desapareceram e, depois, voltaram a aparecer por trás da sebe, do lado direito, mas sendo agora apenas visíveis as cabeças das duas mulheres. O pônei, demasiado baixo, não era, com efeito, visível.
Então, uma seqüencia alternada de ações e contemplações começou a desenrolar‑se. Primeiro, Diana fez menção de se inclinar na direção onde devia estar o pônei; a sua cabeça desapareceu, a cabeça de Margherita, pelo contrário, continuou visível: podia-se dizer que olhava para qualquer coisa que estava para acontecer atrás da sebe, por baixo dos seus olhos.
Passou talvez um minuto; então, inopinadamente, o pônei, como já fizera na cavalariça, empinou‑se mostrando bruscamente acima da sebe as patas dianteiras e a cabeça. Voltou a desaparecer logo a seguir; decorreram mais alguns intermináveis minutos, e a cabeça de Diana reapareceu acima da sebe; foi então a vez de desaparecer a cabeça de Margherita.
Era a Diana agora quem contemplava qualquer coisa que se passava atrás da sebe, por debaixo dos seus olhos; o pônei não voltou a empinar‑se. A seguir, Margherita emergiu por seu turno; agora as cabeças das duas mulheres eram simultaneamente visíveis, uma frente à outra.
Talvez Margherita tenha falado, dando certa ordem à outra. Vi claramente Diana sacudir a cabeça, num sinal de recusa. Margherita estendeu um braço e segurou com a mão a cabeça de Diana, como às vezes alguém faz no mar com outra pessoa para a obrigar, brincando, que mergulhe. Mas Diana não cedeu. Houve um momento de imobilidade, depois Margherita, só com uma das mãos, esbofeteou duas vezes Diana, uma bofetada em cada face. Vi então a cabeça de Diana começar a descer lentamente e desaparecer de novo. Nessa altura, saí da janela.
Sem me apressar, uma vez que sabia que ambas se encontravam agora consagradas à “coisa”, saí do quarto, desci ao térreo, cheguei ao jardim. Voltei, cheia de alegria, ao ver o meu automóvel estacionado diante da porta de casa. Entrei, peguei o volante e, no minuto seguinte, já corria pela estrada a fora em direção à Roma.
Você vai me perguntar porque é que, afinal de contas, te contei toda esta história bastante sinistra. E respondo: por arrependimento. Confesso que, no momento em que Margherita se encostou em mim no quarto, tive quase a tentação de ceder. Teria feito isso precisamente por ela me repugnar, precisamente por achá-la, como você diz, “horrenda”, precisamente por ela me implorar que tomasse o lugar de Diana. Mas, por minha sorte, a sua lembrança não me abandonou. Quando Diana bateu à porta, tudo já havia acabado, eu vencera a tentação e só pensava em você e em tudo o que de bom e de belo você representa na minha vida.
Escreve‑me depressa.
Sua Ludovica.
 |
| Alberto Moravia (1907-1990) |
 Marcelino Freire: Marcelino Freire nasceu em 20 de março de 1967 na cidade de Sertânia, Sertão de Pernambuco. Vive em São Paulo desde 1991. É autor de EraOdito (Aforismos, 2ª edição, 2002), Angu de Sangue (Contos, 2000) e BaléRalé (Contos, 2003), todos publicados pela Ateliê Editorial. Em 2002, idealizou e editou a Coleção 5 Minutinhos, inaugurando com ela o selo eraOdito editOra. É um dos editores da PS:SP, revista de prosa lançada em maio de 2003, e um dos contistas em destaque nas antologias Geração 90 (2001) e Os Transgressores (2003), publicadas pela Boitempo Editorial. Visitem www.eraodito.blogspot.com e conheçam melhor o escritor e sua obra.
Marcelino Freire: Marcelino Freire nasceu em 20 de março de 1967 na cidade de Sertânia, Sertão de Pernambuco. Vive em São Paulo desde 1991. É autor de EraOdito (Aforismos, 2ª edição, 2002), Angu de Sangue (Contos, 2000) e BaléRalé (Contos, 2003), todos publicados pela Ateliê Editorial. Em 2002, idealizou e editou a Coleção 5 Minutinhos, inaugurando com ela o selo eraOdito editOra. É um dos editores da PS:SP, revista de prosa lançada em maio de 2003, e um dos contistas em destaque nas antologias Geração 90 (2001) e Os Transgressores (2003), publicadas pela Boitempo Editorial. Visitem www.eraodito.blogspot.com e conheçam melhor o escritor e sua obra.